Michael Roberts – The next recession blog – 16/01/2026
O Consenso de Washington consistia num conjunto de dez prescrições de política econômica, as quais, nas décadas de 1980 e 1990, eram consideradas como um pacote “padrão”. Recomendava reformas a serem implementadas nos países em desenvolvimento que passassem por crises, sob o controle do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, instituições multilaterais instaladas em Washington DC.
O termo Consenso de Washington foi cunhado, em 1989, pelo economista britânico John Williamson. Tornou-se depois uma base para políticas globais destinadas a promover “mercados livres”, tanto domésticos quanto globais, além de redução do papel do Estado por meio de privatizações e ‘desregulamentação’ dos mercados de trabalho e financeiros. O seu lema era “mantenha os gastos e déficits do governo baixos e deixe o mercado fazer seu trabalho”. Na prática, o Consenso de Washington era um conjunto de diretrizes econômicas que formava o núcleo do que depois viria a ser chamado de “neoliberalismo”.
O consenso neoliberal passou a dominar a política econômica devido ao aparente fracasso da gestão macroeconômica, nascida no pós-guerra e caracterizada como keynesiana, a partir dos anos 1970. Ora, ela passou a falhar à medida que o crescimento econômico afundava e a inflação e o desemprego aumentavam. A causa dessa falha está sempre em disputa dentro da economia convencional. Os keynesianos dizem que a falha veio dos formuladores de políticas econômicas quando eles mudaram “as regras do jogo”. Os neoliberais e monetaristas afirmam que a macrogestão governamental era uma distorção das regras de mercado que, ao serem implementada, piorava a volatilidade do andamento das economias.
Na minha visão, a explicação marxista é mais correta. O boom econômico do pós-guerra, quando se observaram taxas de crescimento econômico relativamente altas e níveis de emprego quase plenos (pelo menos nas economias capitalistas avançadas), só foi possível por causa da alta lucratividade do capital. Ela permitia investimentos produtivos, os quais encontravam uma oferta abundante de mão de obra explorável em toda a Europa e Ásia.
Mas a queda na lucratividade, prevista pela lei de Marx apresentada em O capital, acabou ocorrendo. Eis que a taxa de lucro caiu acentuadamente de meados dos anos 1960 até os anos 1970. A primeira crise internacional ocorreu em 1974-75, seguida pela estagflação (produção estagnada junto com o aumento da inflação). Algo precisava ser feito para reviver as economias capitalistas e, para tanto, uma mudança de política econômica era necessária.
Tratou-se, então de cortar os pesados gastos públicos, de parar de interferir nos mercados, de esmagar os sindicatos, de privatizar os ativos estatais e de direcionar os investimentos para as áreas do globo localizadas no Sul em que a mão de obra fosse barata. A implementação bem-sucedida dessas políticas durante a década de 1980 permitiu que a lucratividade se recuperasse um pouco e que o capitalismo prosperasse. Por causa desse sucesso, a teoria econômica dominante convenceu-se do acerto do Consenso de Washington.
Mas a lei de Marx voltou a exercer pressão sobre a lucratividade o capital. No final do século XX, as taxas de lucro começaram a cair novamente; dada essa circunstância geral, houve uma crise financeira global em 2008-2009; após sobreveio a Grande Recessão. Ficou claro, então, as políticas neoliberais e o Consenso de Washington estavam fracassando. A globalização parou abruptamente e as principais economias entraram numa Longa Depressão caracterizada por baixo crescimento do PIB, pouco investimento, inflação e elevação do desemprego. Era hora, portanto, do mainstream reconsiderar seu “zeitgeist” econômico.
Em primeiro lugar, houve uma tentativa de revisão do Consenso de Washington feita pelo Departamento de Estado dos EUA, sob a presidência de Joe Biden. O livre comércio e a ausência de intervenção estatal nos fluxos de capitais deveriam ser substituídos agora por uma “estratégia industrial”. O governo doravante deveria intervir para subsidiar e taxar empresas capitalistas, de modo que os objetivos nacionais fossem alcançados.
Haveria, então, mais intervenção no comércio e nos fluxos de capital, mais investimento público e mais tributação dos ricos. Cada nação buscaria o seu próprio interesse – sem pactos globais, mas por meio de acordos regionais e bilaterais; a livre circulação de capitais seria abandonada, pois o investimento e a força de trabalho seria melhor controlados nacionalmente. E em torno disso, novas alianças militares se fariam para impor esse novo consenso.
Tal Consenso de Washington revisado foi suspenso quando o Partido Democrata perdeu a eleição e Joe Biden foi substituído por Donald Trump em 2025. A abordagem trumpista inovadora foi, então, consagrada num documento recentemente publicado e que foi chamado de Estratégia de Segurança Nacional. Esse documento veio abrir um novo jogo – pelo menos para os EUA. A visão de mundo de Donald Trump cristalizou uma nova abordagem econômica, a qual foi chamada de geoenômica. Ao invés de reger a economia em nome de interesses de classe mais amplos, passou-se a guia-la pelos interesses de certos grupos. Em consequência, a economia tradicional precisou criar uma nova abordagem e ela foi denominada de abordagem geonômica.
Contudo, diante de impasses econômicos e geopolíticos bem evidentes, surgiu agora um Consenso de Londres que visa rivalizar com a herança herdada e com o trumpismo econômico. Destarte, recebeu esse nome portentoso já que foi criado por um grupo de economistas que pertencem ao coração do mainstream, a London School of Economics (LSE). Ele começou a ser desenvolvido a partir de 2023 por mais de 50 dos principais economistas e especialistas em políticas públicas do mundo sob a liderança da LSE. Em 2025, eles publicaram esse folheto sob o nome de Consenso de Londres: Princípios Econômicos para o Século XXI.
Em que o Consenso de Londres difere do Consenso de Washington que marcou o neoliberalismo? No capítulo introdutório do livro da LSE, os editores, Tim Besley e Andrés Velasco, explicam isso claramente. A primeira linha da introdução diz ao leitor a direção do novo consenso – voltar à Keynes! Os editores citam o conhecido epigrama de Keynes de que “são as ideias, e não os interesses instalados, que são perigosas para o bem ou para o mal”. Ora, ele implica que é preciso acertar as políticas econômicas para que as economias fiquem acertadas.
A visão idealista de Keynes expressa nesse epigrama, contudo, está errada. Eis que são precisamente os “interesses instalados” (ou seja, os interesses econômicos da classe dominante) que impulsionam a formação das ideias econômicas. A macrogestão keynesiana deu lugar ao neoliberalismo e ao Consenso de Washington nos anos 1980 porque as políticas keynesianas não estavam mais funcionando para os interesses do capital. A lucratividade caiu e com ela o keynesianismo. Agora, o neoliberalismo também se mostrou errôneo e, por isso, estão surgindo novas ideias que pretendem – implicitamente – refletir os interesses do capital.
Os autores do Consenso de Londres parecem não perceber tais interesses. Ora, isso se revela no seguinte comentário: “não existe um ‘grande projetista’ traçando o curso evolutivo do mundo, o que há, e que faz o caminho, é um processo perene de tentativa e erro. A sorte também ajuda: as sociedades por enquanto não impediram que o acaso determine o seu destino”. Então, o que acontece nas economias vem apenas acaso! Ou seja, não existem leis gerais que possam fornecer diretrizes para as mudanças, impondo tendências nas economias; tudo o que podemos fazer é reagir às circunstâncias em mudança.
E quais são essas circunstâncias em mudança, ocorridas ao longo do século XXI, que abriram enormes lacunas nas ideias do Consenso de Washington? Os autores da LSE afirmam que “novos desafios estão aí e são fáceis de listar: mudanças climáticas, perda de biodiversidade, pandemias, desigualdades variadas, os efeitos indesejados da tecnologia, uma economia mundial fragmentada, populismo e polarização, guerra no continente europeu, apoio em declínio à democracia liberal em muitos países.”
Sim, muita coisa ruim está de fato acontecendo; tem-se, assim, o que tem sido chamado de policrise no curso do capitalismo.
Então, quais seriam as mudanças que a economia tradicional deveria fazer para ajustar, mudar e substituir o Consenso de Washington, criando assim um suposto novo consenso? Os autores do Consenso de Londres visam manter uma economia baseada no mercado, mas promovendo agora um maior igualitarismo. O Consenso de Washington concentrou-se no primeiro deste dois objetivos e, por isso, o Consenso de Londres quer trabalhar pelo segundo.
Primeiro, algumas coisas precisam ser restauradas: nomeadamente, a globalização. Segundo os autores, a globalização criou muitas coisas boas para a população mundial: “é difícil argumentar contra a ideia de que as enormes quedas na pobreza global que se seguiram se deveram, ao menos em parte, a uma maior abertura econômica.” Sério?
Muito estudos empíricos mostram que os níveis globais de pobreza (independentemente de como foram medidos) caíram após a década de 1990 quase exclusivamente devido ao avanço na renda per capita no país mais populoso do mundo, a China. Tirando a China (e, em certa medida, a Índia) desse quadro da pobreza, houve pouca ou nenhuma redução na pobreza global. De fato, os autores da LSE precisam admitir que “os efeitos desiguais da globalização não podem ser ignorados. Mudanças no tamanho e na composição dos fluxos comerciais têm efeitos marcadamente desiguais nos ganhos entre indivíduos.”
Outro aspecto insuficientemente reconhecido da globalização, segundo os autores, é como os “aluguéis” (rents) estão sendo distribuídos. Aqueles que detêm direitos de propriedade intelectual podem aumentar o seu rendimento terceirizando a fabricação e obtendo “aluguéis” (rents). “Embora gigantes da tecnologia como a Apple produzam pouco nos EUA, ela obtém altos aluguéis (rents) por seus produtos; a Apple Corporation, contudo, decide onde quer declará-los. Ora, isso certamente enriqueceu as classes empreendedoras (bem-sucedidas); os seus retornos, aliás, são maiores quando conseguem reduzir os custos de produção. Mas também criou fontes de desigualdade dentro dos países.”
Mas o que são tais “aluguéis” (rents)? Tem-se aqui, claramente, a visão keynesiana de “mercados imperfeitos” em que prosperam monopólios. Nessa visão, os “lucros” (profits) são aceitáveis (a palavra lucro é usada apenas uma vez ao longo do capítulo introdutório), mas os “aluguéis” não o são. Os aluguéis são encarados como “lucros puros”, ou seja, como renda extraída por meio de monopólio. Essa é a causa tanto da eficiência quanto da desigualdade, acreditam tais especialistas da LSE. O lucro como valor apropriado pelo capital por meio da exploração do trabalho e redistribuído pela competição entre capitais é aceito porque se trata da remuneração de um fator de produção. Ora, o “lucro normal” é, de longe, a maior proporção do valor excedente obtido pelo capital.
Ao se focar apenas em “alugueis”, como fazem os autores da LSE, isso cria um problema. Pois, tais aluguéis (rents) não podem ser facilmente tributados. Eis que “existem questões técnicas relacionadas à identificação e medição das rendas de aluguéis (rents); o que não ocorre com os retornos normais (“retornos normais” é o nome dado pelos autores aos “lucros”). A tarefa é especialmente difícil em um mundo de destruição criativa, onde os lucros motivam a inovação” (de fato!). Nesse ponto, os autores se referem ao “paradigma” de crescimento proporcionado pela “destruição criativa” pelo qual Philippe Aghion e John Van Reenen acabam de receber o chamado prêmio Nobel de Economia.
Esses ganhadores do Nobel revivem a teoria de Joseph Schumpeter (que a desenvolveu a partir de Marx) e argumentam que o crescimento ocorre nas economias capitalistas por meio da “destruição criativa”, segundo uma lógica de altos e baixos.
Os autores da LSE concluem a partir disso que “aluguéis de inovação motivam investimentos em inovação, então eliminar todos os aluguéis por meio da liberalização e da concorrência pode, de fato, ser prejudicial para o crescimento. Mas esses aluguéis inovadores não podem deixar que eles cresçam demais, porque os inovadores de ontem são tentados a usar seus aluguéis para impedir inovações subsequentes, já que não querem ser vítimas de destruição criativa eles mesmos.” Tais rendas provenientes de inovação (na verdade, lucros) são boas porque são necessárias para o crescimento, mas podem se transformar em rendas monopolistas, ou seja, em renda ruins.
Por isso, eles não querem tributar os lucros, ou seja, os “’aluguéis obtidos de inovação”, mas apenas os tais “lucros puros”, ou seja, aluguéis (rents). Em consequência, torna-se necessário taxar as tentativas de monopolizar a inovação para o obter alugueis (rents). Então, tudo fica complicado. “Se o sistema limitar a concorrência e não tributar os aluguéis, isso certamente minará a confiança no sistema de mercado.”
Mas taxar a riqueza não é uma saída para esse dilema. Isso porque “a riqueza é difícil de medir e muitas vezes pode ser transportada entre fronteiras. Sem um nível de cooperação global que hoje é irrealista, os impostos sobre a riqueza dificilmente gerarão receitas muito maiores.”
Talvez a resposta para esse enigma seja não tentar redistribuir renda taxando os alugueis (rents) associados aos usos produtivos, mas intervir diretamente no processo produtivo. Os autores continuam: “confiar no mercado para a maioria das decisões de alocação é frequentemente correto ao considerar a produção privada.” Mas “nem todos os males econômicos e sociais podem ou devem ser corrigidos pela redistribuição pós-produção. Alguns precisam ser corrigidos antes ou durante a produção, no que alguns agora chamam de ‘pré-distribuição‘. Nesse momento, eles citam o ex-economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, em sua contribuição para o volume da LSE, dizendo que “pode ser que seja necessária uma intervenção mais direta no processo de mercado, em vez do processo de redistribuição”.
Essa insinuação tímida sobre a propriedade comum e sobre o investimento estatal é, no entanto, rapidamente descartada. Primeiro, as empresas estatais têm “se mostrado extremamente difíceis de gerenciar para evitar ineficiências.” E há “quase um consenso dizendo que a propriedade em setores produtores de bens de consumo e serviços estão mais bem localizados em mãos privadas”. No entanto, julgam eles que se poderia debater (apenas debater) “o argumento da posse pública de monopólios naturais e de alguns tipos de infraestrutura central.”
Portanto, a propriedade pública de setores-chave para direcionar economias não faz parte do Consenso de Londres – não é surpresa, afinal, nossos autores são seguidores de Keynes, não de Marx. Mas, sendo seguidores de Keynes, eles defendem o aumento da “capacidade estatal”. O que isso significa? Parece que significa usar o Estado para apoiar a economia de mercado. “Ao contrário do ideal mítico libertário do Estado mínimo e preciso criar uma economia de mercado que funcione e, para tanto, é requerida uma série de instituições de apoio ao mercado, tanto legais quanto regulatórias. Um mercado não se desenvolve em muitos países porque o Estado é incompetente e fraco demais.”
Mas os autores não defendem um papel de liderança no investimento do Estado nas economias capitalistas. Para eles, capacidade estatal significa “capacidade de arrecadação de receita para pagar, sem recurso excessivo à dívida, pelas coisas que o governo faz; capacidade jurídico-administrativa, para fornecer um arcabouço estável no qual agentes privados possam tomar decisões – especialmente decisões de investimento, que envolvem ceder recursos hoje em troca de um retorno incerto no futuro; e capacidade de entrega – não apenas para desenhar políticas, mas para implementá-las de forma eficaz.”
Portanto, o que propõe é realmente pouco diferente da gestão macro keynesiana do período pós-guerra: “o governo desempenha o papel de segurador de último recurso, dado que os mercados privados não podem fornecer seguro global. A segunda política é que o governo se torne um formador de mercado de último recurso, ajudando a sustentar mercados financeiros que congelam em tempos de estresse macroeconômico.”
Trata-se, portanto, de socorrer qualquer bagunça causada pelo setor capitalista. Ademais, “a política fiscal deve ser prudente (deve se esforçar para reduzir a dívida líquida) em tempos de prosperidade”. “O novo ativismo” – acrescentam – “está longe de ser um apelo por ‘vale tudo’ quando se trata de política fiscal. Pelo contrário, ele exige prudência fiscal substancial e as instituições que tornam essa prudência possível.” Dito de um modo sintético, trata-se de macrogestão orçamentária.
E quanto ao setor financeiro? Como evitar outro colapso financeiro global tal como aquele ocorrido em 2008? A “alocação de crédito determinada pelo mercado continua sendo um objetivo no Consenso de Londres. Contudo, ele dá muito mais ênfase à regulamentação para evitar altos e baixos no financiamento. Criar um ambiente institucional para regulação micro e macroprudencial é agora o objetivo para banqueiros centrais e supervisores bancários ao redor do mundo.” Aqui se vê sem mascaras a resposta clássica do mainstream ao crash de 2008: mais regulação, mas não demais, porque isso pode bloquear o crédito para empresas capitalistas.
A ironia aqui vem de uma visita. No auge do crash de 2008, a então Rainha do Reino Unido visitou a LSE e cumprimentou os especialistas reunidos com a pergunta: “por que vocês não viram isso acontecendo?” Os especialistas da LSE ficaram perplexos e só responderam em uma carta alguns dias depois.
Qual foi a causa do colapso financeiro, segundo os autores do Consenso de Londres? Eles consideram que “as circunstâncias econômicas benignas que o precederam permitiram o acúmulo de desequilíbrios no setor financeiro – um fenômeno que ilustra como o próprio setor financeiro pode ser uma fonte importante de choques, e como a regulação financeira adequada é um componente essencial das políticas para manter a economia estável.”
Para eles, aparentemente, a desregulamentação excessiva das finanças especulativas foi a causa do crash de 2008 e “a lição de tudo isso é uma ênfase renovada tanto na política macroprudencial quanto na política de concorrência nas finanças, tanto para reduzir a volatilidade quanto para criar estruturas econômicas mais justas.” Os bancos, os fundos hedge, as grandes empresas não devem ser tocados, apenas regulados melhor. Ora, a “regulação” falhou sempre, miseravelmente, em impedir crises recorrentes nas economias capitalistas.
Os autores buscam mostrar o papel bem-sucedido dos bancos centrais no controle da inflação. “As taxas de inflação caíram em todo o mundo após a adoção da meta de inflação e permaneceram assim por mais de duas décadas. E quando a inflação disparou após a pandemia, em parte devido a choques de oferta imprevistos, os bancos centrais conseguiram reduzir as taxas de inflação geral sem provocar uma recessão.” Sério? Todas as evidências mais recentes mostram que a política monetária dos bancos centrais não conseguiu atingir suas metas de inflação estabelecidas durante o período neoliberal, ou seja, durante a Longa Depressão dos anos 2010 e no pico de inflação pós-pandemia.
Os autores do Consenso de Londres retornam ao lema de seu herói, o economias John M. Keynes, ou seja, que as ideias impulsionam interesses econômicos, e não o contrário. Sobre esse tema, os autores argumentam que a maior diferença entre o Consenso de Washington e seu Consenso de Londres é que agora é a política – a política, gente estúpida – que importa, não a economia.
Veja, a democracia liberal está sob ameaça. “Desde o fim do sonho democrático na Rússia até o endurecimento da autocracia na China, do retrocesso democrático na Hungria e Turquia ao retorno da ditadura na Venezuela e Nicarágua, à recente sucessão de golpes na África Subsaariana, das turbulências políticas caóticas nos Estados Unidos ao crescente descontentamento com a democracia em muitas democracias de longa data no Ocidente, o catálogo de males políticos é longo e preocupante.” Não há menção aqui à falta de democracia na Arábia Saudita e nos outros regimes árabes, à destruição da Palestina por Israel etc. A única preocupação é a perda da democracia liberal em países chaves.
Os autores observam que a “democracia liberal” está ameaçada pelo “populismo autoritário” devido à “estagnação salarial e a crescente desigualdade nos EUA e no Reino Unido; também porque muitas regiões foram deixadas para trás em razão do declínio do emprego industrial e do enorme sofrimento humano provocado pela perda de empregos e falências familiares durante a Grande Crise Financeira de 2007–09”.
Qual seria, pois, a resposta para tudo isso? Ora, julgam que é precioso “enfatizar a importância de um consenso político liberal construído em torno de uma sociedade coesa como base para o desenvolvimento político e econômico (…) pois, sem bons empregos – e com bons salários – é difícil imaginar como a política permanecerá pacífica e estável em muitos países”. De fato, a principal razão para a crescente perda de poder político pelos partidos tradicionais de ‘centro-direita’ e ‘centro-esquerda’ da ‘democracia liberal’ não viria da incapacidade de entregar o que fora prometido? O capitalismo do século XXI pode oferecer bons empregos com bons salários, melhores serviços públicos etc. etc.?
O Consenso de Londres é muito, muito confuso. O lema é TKV, ou seja, “trazer Keynes de volta”, mas com um ênfase extra na “capacidade do Estado”. No entanto, os autores dizem que “pragmatismo é necessário. Concordamos” – dizem – “com Paul Johnson sobre o que ele escreve neste volume: uma boa economia ‘não depende simplesmente de minimização do envolvimento do Estado, nem de um descarte do setor privado. É muito mais complicado do que isso’.” De fato, isso é complicado demais para o Consenso de Londres. Enquanto prosperar a falação desse suposto consenso, o trumpismo e a geonomia estão em ascensão globalmente.

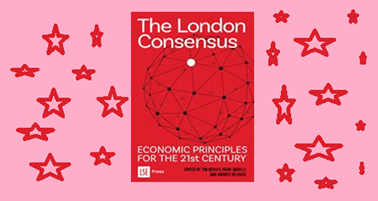
Você precisa fazer login para comentar.