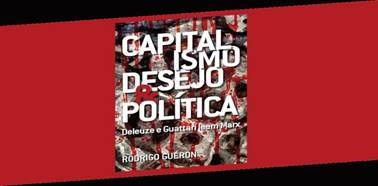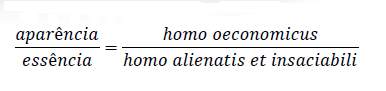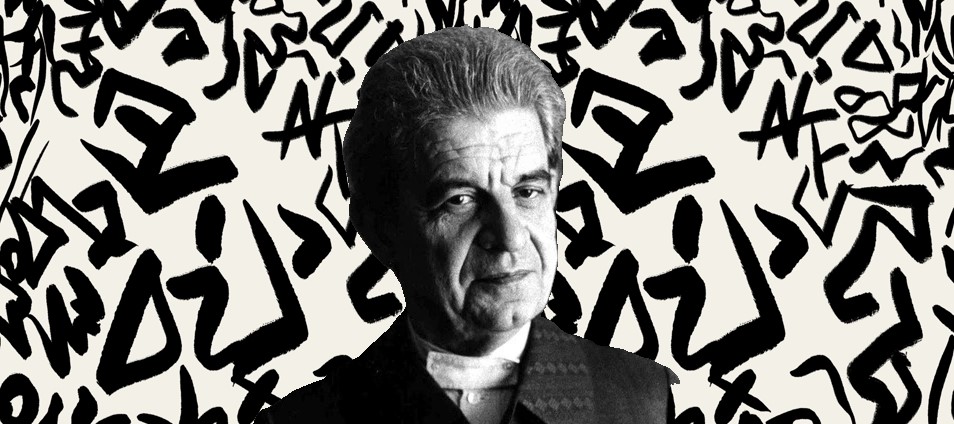Autor: Eleutério F. S. Prado [1]
Como se tentou mostrar criticamente no texto O humano segundo Freud aqui publicado, esse autor pensa o humano com um ser reativo regido pela inércia orgânica, ou seja, pela tendência de conservar a quantidade de excitação no nível mais baixo possível – e não como um ser proativo que busca a excitação e a mantém em nível alto até o momento em que sente a necessidade de descansar.
Numa linha de argumentação semelhante, aqui se buscará entender como Sigmund Freud pensa o desejo humano com o fim de criticá-lo por não o tomar como uma força produtiva, na verdade, como a força produtiva primordial do sujeito social possível. Com esse fim se lerá, para dela se apropriar, a crítica feita por Gilles Deleuze e Félix Guattari em O anti-édipo – capitalismo e esquizofrenia. Para apresentá-la de um modo bem compreensível, se empregará aqui não o texto original, mas a explicação contida no livro Capitalismo, desejo e política – Deleuze e Guattari leem Marx, de Rodrigo Guéron.[2]
Continuar lendo