O filósofo Denis Collin no texto em apenso apresenta um novo conceito de transformação social, radicalmente diferente, segundo diz, das tendências tradicionais da socialdemocracia, do socialismo cientificista e do comunismo de caserna. Originalmente escrito em francês, está aqui traduzido para o português como uma forma de contribuir para o debate sobre uma nova perspectiva para a superação do capitalismo. Essa perspectiva, mesmo sendo ainda incipiente, pretende encontrar um caminho para superar tanto o reformismo fracassado quanto o centralismo revolucionário. A inspiração para a proposta vem de uma leitura de teses de George Orwell.
“Common decency” ou decência comum.
Denis Collin – Esboço de outro socialismo [1]
O título desta conferência foi tomado emprestado de George Orwell. Trata- se de explorar o significado e as implicações da ideia de “decência”. O principal resultado a ser obtido consiste na proposição de um novo conceito de transformação social, radicalmente diferente das tendências tradicionais do socialismo e do comunismo revolucionário.
Diante da questão dos possíveis desenvolvimentos da sociedade moderna, isto é, da sociedade dominada pelo modo de produção capitalista [note-se que eu não falei em “a sociedade capitalista” porque não há qualquer sociedade puramente capitalista], despontam várias atitudes possíveis:
- A atitude conservadora diz: as relações sociais baseadas na propriedade privada são intocáveis (ela é um direito natural); o mercado “livre” é, pois, insuperável. A lei deve garantir firmemente a permanência dessa ordem intangível. Essa atitude aparece no ordoliberalismo que é a doutrina da União Europeia, cujo fundador foi Carl Schmitt, o famoso jurista nazista…
- O socialismo reformista replica: por meio de uma sucessão de avanços sociais dentro da sociedade dominada pelo modo de produção capitalista, mediante a dinâmica do progresso científico e técnico, a sociedade irá melhorar gradualmente, sem que se possa fixar um término para este movimento. Tal como disse o primeiro grande teórico do socialismo reformista, Eduard Bernstein, “o movimento é tudo, o fim não é nada”.
- O socialismo revolucionário contesta: o comunismo defende a ideia de uma mudança fundamental na sociedade. “O mundo vai mudar em sua base” e, assim, aparecerá um “homem novo”. Este socialismo revolucionário, como se sabe, foi defendido no início do século XX pela socialdemocracia. Ele foi difundido por numerosas brochuras.[2] Este modelo foi acolhido pelo comunismo histórico do século XX, tendo sido implantado sob várias formas na URSS, China e Cuba.
O modelo (II) já não existe de fato. Os seus partidários são de fato apoiadores do modelo (I). O modelo III está morto há muito tempo – enterrado, tal como se diz, sob os escombros do Muro de Berlim, ainda que a sentença de morte tenha sido pronunciada bem antes. A socialdemocracia favoreceu maciçamente o modelo (II) antes de se tornar uma mera sombra do modelo (I). Os comunistas patrocinaram novas formas de sociedades com dominância capitalista, tais como a Rússia e a China. Em suma, parece simplesmente não existir outra alternativa além de aceitar o mundo tal como ele é, desistindo de todas as alternativas sociais e políticas. E este é provavelmente o nosso principal problema atualmente: uma ausência de futuro. Como explicou Diego Fusaro, é justamente por essa razão que hoje proliferam as “paixões tristes”. Sob toda essa raiva pessoal contra a força externa que nos domina e mesmo em face dela, em nossa solidão de átomos conflitantes, estamos programaticamente enfraquecidos.[3] Temos de voltar, por isso, à terrível pergunta: o que fazer?
Não pretendo fazer aqui uma exegese do socialismo orwelliano, o que já foi feito e bem feito em outros lugares. Vou me contentar, partindo de Orwell, em tentar desenhar um rumo para um outro socialismo, um socialismo dos homens comuns – sem propor um retorno à utopia que está definitivamente enterrada.
A experiência política de Orwell
George Orwell não é apenas o autor de livros famosos tais como A revolução dos bichos e 1984. Ele foi um ativista, pode-se mesmo dizer que foi um militante revolucionário, um homem que forjou suas ideias em combates e se revelou como um pensador político profundo. Formou-se lutando, se quisermos simplificar as coisas, nas fileiras do Partido Operário de Unificação Marxista (POUM), um partido de orientação “trotskista”, pela república espanhola. Ora, este partido se recusou a dissociar a luta pela derrubada do capitalismo da luta contra Franco. E isto lhe valeu a hostilidade de uma fração stalinista – o GPU ou Grupo Popular Unificado –, que se encontrava diretamente controlado pelos agentes de Stalin.
Depois que o líder do POUM, Andreu Nin, foi sequestrado e assassinado pelos agentes da GPU, Orwell, após ficar à beira da morte sob balas franquistas, teve de se esconder para escapar da polícia stalinista. Esta experiência, contada depois no livro Homenagem à Catalunha, fez dele um oponente determinado de todo o sistema totalitário, assim como um feroz defensor da democracia. Contra aqueles que não veem na “democracia burguesa” e no fascismo mais do que duas formas da dominação da classe burguesa (uma posição clássica marxista), Orwell passou a considerar que subsiste uma ruptura fundamental entre a democracia (burguesa) e os regimes fascistas e nazistas. Eis o que ele escreveu:
A democracia burguesa não é suficiente, mas é muito melhor do que o fascismo; trabalhar contra ela equivale a serrar o galho em que se está sentado. As pessoas comuns sabem disso, mesmo se os intelectuais o ignoram. Elas se agarram firmemente à “ilusão” de democracia, assim como à concepção ocidental de honestidade e decência comum.[4]
Foi esta análise que o levou a rejeitar o pacifismo de seus amigos do Partido Trabalhista Independente (um partido britânico que recusou tanto a socialdemocracia quanto o comunismo stalinista), para apoiar um “patriotismo revolucionário”. Para ele, a guerra da Inglaterra contra Hitler e a luta pela derrubada do capitalismo eram indissociáveis. A defesa dos valores democráticos era a única maneira de reunir a massa do povo inglês com a finalidade de produzir, finalmente, “uma versão de socialismo que estivesse mais ou menos em linha com o passado do povo”.[5]
Orwell, portanto, nunca abandonou as convicções revolucionárias que o animaram quando lutou nas brigadas do POUM. Durante a Segunda Guerra Mundial, alistou-se na Guarda Cívica (Homme Guard), tornando-se um seu instrutor. O seu objetivo era não só treinar os cidadãos para resistir aos ataques nazistas, mas era também participar na formação de cidadãos aptos para a condução de uma revolução urbana quando e onde as condições se apresentassem. Em 1941, ele desenvolveu uma espécie de programa revolucionário para a Inglaterra. Este programa continha os seguintes pontos:
. uma ampla revolta popular vinda de baixo desafiaria tanto o sistema de trabalho quanto os pequenos grupos de extrema-esquerda, rejeitando tanto o papel dirigente da classe operária quanto o partido de vanguarda (teorizado pelos marxistas), assim como, também, aquele dos intelectuais reformistas burgueses (mantido pelos socialistas fabianos);. uma aliança entre os trabalhadores e os membros das classes médias modernas com base na figura do “homem comum”, os quais partilham os valores da “decência”;
Tem-se, assim: a) A invenção de um socialismo inglês que se recusa a fazer “tabula rasa do passado” ou a importar modelos estrangeiros e que se baseia apenas nas aspirações libertárias e igualitárias consagradas na história e nos costumes do povo inglês; b) Um movimento político democrático com vocação majoritária e que se recusa a impor pela força ideias minoritárias, não excluindo, no entanto, o uso da violência se a minoria privilegiada se agarra ao poder; c) Um programa político radical: nacionalização da terra e da grande indústria, abolição das escolas públicas (escolas, na realidade, muito particulares em que a futura elite governante aprende a distinção social e o desprezo pelo povo), redução drástica do fosso entre as rendas (não mais do que entre 1 e 10), fim do império colonial – independência imediata da Índia.[6]
Porque é preciso abandonar as utopias
Orwell observou que as descrições da felicidade duradoura em uma sociedade futura são inevitavelmente falsas. Elas sugerem a perfeição, mas nunca a própria felicidade. E isto, ademais, levanta questões bem conhecidas sobre o que é felicidade. De qualquer modo, podemos pensar como Orwell que o problema diante de nós é como evitar que tais utopias se tornem realidade. Todas as utopias clássicas pintam um mundo racional que permite os homens comuns viverem de forma pacífica; todos elas são hedonistas. Em O admirável mundo novo, Huxley descreve uma sociedade hedonista racional que é um inferno. Essa sociedade parece estar ao alcance de nossas mãos: a capacidade da biotecnologia e a competência invasora dos sistemas de comunicação tornam perfeitamente possível o advento de um “homem novo”, mas é precisamente este homem novo que nós não queremos!
Os revolucionários de outrora queriam mudar o mundo. Hoje, propomo-nos uma questão muito diferente: como preservar o mundo frente ao desencadeamento das forças do “mercado livre”? No momento em que os “conservadores” defendem o sistema da revolução permanente – eis que o modo de produção capitalista é um sistema de revolução permanente – os revolucionários devem também querer ser conservadores. Pois, ser conservador não significa ser reacionário. O reacionário é aquele que se contenta simplesmente em reagir, desejando uma volta impossível e desastrosa ao passado. O conservador é aquele que quer preservar as conquistas da história da humanidade. E é assim precisamente porque está ligado a uma certa visão da história; é porque está tomado pela nostalgia do conservador que pode se tornar um revolucionário sério.
Ora, ser revolucionário sério significa que não “fazer tabula rasa do passado”. O passado nos constitui e se temos hoje liberdade de agir, não podemos fazê-lo senão dentro das condições legadas pelas gerações anteriores. Por um lado, aquilo que nos legou o passado é um suporte indispensável para qualquer política que vise tornar a vida melhor. A cultura, o conhecimento, o progresso social, o avanço da liberdade e da moralidade, a civilidade são ativos valiosos. Querer “fazer tabula rasa do passado” é simplesmente uma posição niilista e essa espécie de posição é aquela que sempre alimenta o fascismo. Por outro lado, temos de aprender a lidar com o passado. As tradições nacionais são muito encorajadoras. Cada nação arrasta consigo o peso denso de sua própria história. E esse peso não pode ser varrido por um golpe de mão.
Podemos esperar que o mundo de amanhã seja melhor, mas não devemos querer ou esperar que ele seja um mundo radicalmente novo. Para que o novo aconteça, ele tem de ser protegido; ora, apenas a velha sociedade pode protegê-lo.
Por conseguinte, a utopia não deve ter lugar num programa político, ainda que, como gênero literário, possa ser um meio valioso de crítica social; como um sonho acordado, ela permite que certas aspirações sublimes encontrem um modo de se expressar.
Que legado devemos defender?
Pelo que já foi dito, se queremos estabelecer uma perspectiva para o futuro, precisamos definir que herança reivindicamos.
A comunidade política aristotélica
Em primeiro lugar, em busca de uma sociedade composta por indivíduos não rivais uns em relação aos outros, trata-se de restaurar o ideal da comunidade política tal como a encontramos nos grandes filósofos da antiguidade e, sobretudo, em Aristóteles. O homem é naturalmente – afirmou – um animal político e isto tem várias consequências:
- O homem vive naturalmente em uma comunidade política e esta tem um tamanho limitado. A ideia de “cidadão do mundo”, defendida pelos estoicos, é moralmente sublime e se afigura como um ideal de paz entre as nações; porém, ela não se torna efetiva senão por meio do cidadão de uma determinada comunidade política, de um membro-cidadão de um povo ou de uma nação – e uma nação não está definida em termos raciais ou biológicos, mas como “uma comunidade de vida e de destino”, segundo as belas palavras de Otto Bauer. Dizendo de outro modo, o primeiro e o mais fundamental dos direitos humanos é o direito de pertencer a uma nação, de não ser um “apátrida, sem lei e sem nenhum lar” tal como no insulto à Homero, de acordo com as palavras de Aristóteles. Foi assim que Nestor respondeu a Diomedes: “são sem famílias, sem leis, sem casas, aqueles que se deleitam em guerras intestinas e nos infortúnios que elas implicam” (Ilíada, Livro IX). Aquele que não tem pátria é levado à guerra, enquanto que aquele que a tem não faz a guerra a não ser que tenha sido forçado e constrangido a se defender. É isto o que nos lega a sabedoria grega, à qual podemos retornar por nossa conta.
- Se o homem é naturalmente um ser político, precioso para ele é o que constitui a comunidade, ou seja, o bem comum (commonwealth), a coisa pública (res publica), aquilo que ele deve defender em primeiro lugar. Este bem comum é um bem no sentido material do termo: aquilo que provém da atividade do poder de todos pertence a todos. E ele é também um bem no sentido moral. Para Aristóteles, os homens são capazes de usar a palavra para acordarem entre si quanto ao útil e ao prejudicial, quanto ao justo e ao injusto, assim como quanto a outros valores que fundam a cidade. O bem comum é, então, uma moral comum ou um ethos comunitário que nos permite viver em comunidade. As virtudes que se mostram importantes aqui são as virtudes políticas: a honestidade, a generosidade, a coragem, a justiça, a moderação – isto é, a recusa dos excessos –, são todas necessárias para uma vida em comum possível. Todas essas virtudes se mostram amplamente compartilhadas por todas as pessoas sãs. Mas elas não são inatas. Ao contrário, são disposições adquiridas por meio de hábitos. É apenas por meio de uma boa educação e de boas leis que podem surgir bons hábitos, produzindo-se assim uma certa amizade entre os cidadãos, a qual mais tarde será chamada de amizade cívica ou fraternidade.
A concepção ético-política de Aristóteles em si mesma é compatível com muitas formas de organização social. Mas ela é antagônica à dinâmica da atual sociedade capitalista. O modo de produção capitalista é um sistema global por natureza que tende a destruir todos os obstáculos ao seu próprio desenvolvimento; mesmo as fronteiras nacionais dentro das quais ele primeiro se desenvolveu têm sido seriamente violadas pela dinâmica do capital. Para o capital, o homem não é um “animal naturalmente político”, mas apenas um fornecedor de mão de obra indiferenciada ou um consumidor intercambiável enquanto tal. O vendedor da força de trabalho deve ser sempre alguém sem lar e sem pátria, pois a sua mobilidade total é a única virtude que o modo capitalista de produção valoriza. Como consumidor, o homem não pode ser moderado! Pelo contrário, ele deve consumir, gastar, desperdiçar para que a máquina econômica possa continuar a funcionar. Os homens em sua maioria, portanto, não devem estar vinculados por laços de amizade cívica, mas devem permanecer irremediavelmente separados por uma rivalidade que é chamada de “livre concorrência”. Aos jovens é dito: “seja competitivo”, “saiba se vender a si mesmo” ou “torne-se um milionário”; é isto o que lhes propôs o Sr. Macron, um falso jovem, um rebelde falso, mas um verdadeiro reacionário. Ou seja, eles são incessantemente chamados para conduzir essa guerra de uns contra os outros que foi caracterizada por Hobbes como um estado de natureza, em oposição ao estado civil.
Muitas vezes subestimamos a indignação moral que os “homens comuns” podem nutrir contra os excessos dos poderosos, contra a exibição indecente de riqueza. Há obviamente nela um tanto de inveja – exatamente daquela inveja dos ricos que é cultivada em nossa sociedade. Mas tal cobiça é ensinada no próprio sistema educacional, já que este visa incutir progressivamente nos alunos o desejo de se tornarem empresários, ao invés do desejo de saber ou de ser virtuoso, conforme o exemplo dos grandes heróis da História.
Mas há também nessa indignação, o bom senso comum, aquele que recusa tanto excesso de riqueza (a pleonaxia) quanto a sua falta (a pobreza extrema). A moderação como virtude política exige que as desigualdades – ainda que estas possam existir por uma variedade de razões – mantenham-se moderadas. Se pretendemos ser aristotélicos, não devemos aceitar as desigualdades proporcionadas pelo mérito individual, pois, para ele, o verdadeiro mérito consiste somente na contribuição que se pode dar ao bem comum. Tira-se daí, facilmente, toda uma nova visão do princípio da repartição das riquezas e das posições sociais, o que pode alimentar uma “teoria da justiça” que se encontra na linhagem do pensamento republicano.
Concluo esse ponto com uma observação: o aristotelismo ainda influencia alguns filósofos importantes. Penso em Alasdair MacIntyre e em Michael Sandel. O livro recente deste último autor, Justiça – o que é fazer a coisa certa, que se tornou um best-seller em todo o mundo, deve ser lido e meditado já que é uma das melhores apresentações que conheço da questão da justiça e da filosofia moral em geral. Se queremos discutir filosoficamente as questões ditas “societárias”, saibamos que tomar uma pequena dose de Michael Sandel põe as nossas ideias no lugar.
A tradição republicana
A segunda fonte de inspiração que proponho é a tradição republicana, a qual antes já elogiei em livros, artigos, mas também aqui nesta universidade popular. Ela nos fornece um corpo teórico sólido. Estou contente em poder resumir aqui, grosso modo, em que consiste essa tradição que vai de Maquiavel a escritores contemporâneos (inclusive este que aqui fala).
O republicanismo é uma teoria de liberdade e do governo, tal como define claramente Philip Pettit. É uma teoria de liberdade desde que se saiba o que se deve entender por este termo. Deixo de lado a questão metafísica de saber se o homem é livre por natureza ou se está determinado pelas leis inflexíveis de um Deus todo- poderoso ou da natureza. O que me interessa aqui é a liberdade política. Podemos dizer que existem três concepções de liberdade política:
- A liberdade política como realização de si mesmo na vida pública. Esta é a concepção dos antigos, de Aristóteles e de Cícero, autores que não dão qualquer valor significativo à “vida privada”. Aquilo que está essencialmente ausente da vida privada e que faz alguém ser um homem é a sua participação na comunidade, na “polis” ou na “res pública“. O homem não se realiza como cidadão apenas se sujeitando às leis, mas também participando na definição das leis. Esta concepção torna-se quase um ideal na Atenas clássica e, de forma diversa, nas experiências de democracia direta. É esta concepção aquela que é encontrada nos “conselhos de trabalhadores”, nos “sovietes” russos, ou ainda nos “Räte” alemães, os quais foram teorizados pela corrente comunista dita conselhista (Herman Gorter e Anton Pannekoek) ou pelo notável Cornelius Castoriadis.
- A liberdade como não-interferência do Estado na vida privada. A concepção “liberal” moderna argumenta que o homem é livre apenas quando não está sujeito às leis. Mas como as leis são necessárias, julga que é necessário definir cuidadosamente a sua abrangência, deixando tudo o mais para os contratos privados. Conforme se ponha o cursor entre a liberdade e a lei pode-se ter um regime liberal (econômico) muito autoritário, ou um regime liberal democrático ou até mesmo um anarquismo libertário, que, de tal ponto de vista, não é mais do que uma forma extrema do liberalismo clássico.
- O republicanismo define a liberdade como “não dominação”. Um homem só é livre se não for controlado por um outro homem. Quem precisa de um mestre é um parvo – disse Rousseau. Da liberdade dos antigos, os republicanos retiram que ela é liberdade apenas por meio da lei – e não uma liberdade fora da lei – porque a função legítima da lei é proteger os indivíduos contra qualquer dominação. E da liberdade dos modernos, eles conservam a ideia de que a defesa da vida privada é legítima e que as pessoas não precisam atrelar toda a sua vida à política. Mantém também certa desconfiança em relação às assembleias, notando que a democracia pode facilmente se transformar em oclocracia (o poder da multidão). Para os republicanos, todas as liberdades básicas – aquelas de 1789, as quais partilham com os liberais – existem realmente apenas quando as leis garantem que vigorem. Tenho liberdade de opinião “mesmo religiosa”, mas qual o valor dessa liberdade se a lei não garante que vigorem, se a minha liberdade para blasfemar, por exemplo, não está protegida dos jihadistas assassinos?
Há duas dimensões importantes na concepção republicana. Em primeiro lugar, a dominação não é somente dominação política, mas também dominação econômica (que existe, por exemplo, nas relações entre assalariados e empregadores), assim como também dominação familiar (que existe entre os sexos masculino e feminino ou entre os pais e os filhos). A república deve proteger os mais fracos dos fortes, os direitos dos indivíduos das paixões comunitárias. Em segundo lugar, os indivíduos devem ser protegidos contra a dominação política, contra o abuso de poder, assim como contra a tirania da maioria. E isto implica todo um conjunto de dispositivos constitucionais apropriados (o princípio da separação de poderes, a garantia do direito de contestação, etc.).
Ao contrário da concepção antiga, o republicanismo protege o indivíduo contra qualquer forma de poder, seja da comunidade, da família, da religião ou de outra qualquer. Ele também protege o indivíduo contra qualquer um que seja capaz de explorar alguma vantagem para oprimir outros – por exemplo, no domínio econômico.
O que é importante aqui é que o republicanismo é portador de uma determinada concepção de vida social. Ele considera que a emancipação das pessoas em relação aos dogmas e às tradições opressoras é um progresso valioso. Eis, portanto, que há um individualismo bom! Mas o indivíduo não existe senão em uma comunidade humana ou na intersecção de várias comunidades. “Nós somos os outros”, disse Emmanuel Laborit[7]6, repreendendo Marx, certamente sem o saber, por ter ele dito que o indivíduo é a soma de suas relações sociais. Mas em oposição às comunidades fechadas que cerceiam os indivíduos – tal como a família patriarcal em geral – a concepção republicana promove as comunidades abertas, às quais se adere livremente e que se pode sair livremente. Eis que a república promove a liberdade quanto permite, por meio da educação pública igual para todos e da proteção social abrangente, que cada qual escolha a vida que quer levar.
Para o republicanismo, os direitos não podem ser direitos formais; eis que eles devem se constituir como direitos efetivos sob a fiança das instituições políticas.
Tal como já foi dito por Philip Pettit, o republicanismo vem a ser uma concepção comunitária. Isso significa que ele não considera os indivíduos como indivíduos isolados, como sujeitos compradores e vendedores, cujas relações uns com os outros são apenas contratuais, tal como estabelece o modelo da troca mercantil. Concebe indivíduos que vivem em comunidade e que, por isso, admitem regras comuns apenas quando elas não oprimem as pessoas. Propõe, assim, tal como na visão de Aristóteles, um ethos comunitário. A “decência comum” de Orwell é apenas uma outra formulação desse mesmo ethos republicano.
Os republicanos desconfiam das ideias morais abstratas e das formas procedimentais que permitem resolver de maneira abrangente todos os problemas – incluindo nessa suspeita certo modo de usar a filosofia moral de Kant. Os valores morais estão enraizados em um “mundo” social particular, embora alguns, por sua natureza, sejam mais universais do que outros. De qualquer modo, isto implica que entre os membros de uma sociedade (ou melhor, de uma comunidade política) existem não só relações contratuais que garantem os interesses de todos, mas também obrigações morais, respeito mútuo e até mesmo amizade – isto é, amizade cívica que, em nossa república, é chamada de fraternidade. Isto significa que não somos indivíduos uns ao lado dos outros, cada um levando uma existência separada do outro (tal como pensa o teórico libertário Robert Nozick). Pelo contrário, existe algo chamado “bem comum” que todos devemos partilhar de forma igual, incluindo aí os bons valores morais. Como Michael Sandel argumenta, não é possível construir uma república sem que haja valores comuns para todos.
Vou dar alguns exemplos que têm certa atualidade. Obviamente, ninguém pode reivindicar o direito de impor as suas crenças ou as suas descrenças aos outros. Tanto a liberdade liberal quanto a liberdade republicana se opõem a esse tipo de imposição. Ora, este é um princípio absoluto da liberdade de consciência. E como princípio, ele é claro: já Spinoza argumentou que podemos governar a língua, mas não os espíritos. Mas quando a manifestação de uma consciência livre põe em questão a liberdade de outras pessoas, esta manifestação pode ser restringida ou mesmo proibida. Alguém poderia pensar que uma parte da humanidade é supérflua e que, por isso, ela deve ser eliminada, mas essa pessoa não pode agir para que qualquer parte da humanidade seja de fato suprimida.
O pensamento nazista não deve ser proibido, mas não podemos lhe dar total liberdade de expressão! Saber como impedir que tais posições se expressem, descobrir que limites impor a essas manifestações, isto depende de muitos fatores, especialmente da consideração de haver ou não um perigo iminente, se fica ou não patente que há uma ameaça a estabilidade das instituições republicanas. Considerei como exemplo os projetos racistas de extermínio. Mas algumas ideologias religiosas também fazer parte do mesmo problema. Pode pregar livremente quem sustenta que as mulheres sem véu podem ser estupradas? Devemos defender tal liberdade de culto?
Estes exemplos são clássicos e John Rawls lhes deu – parece-me – uma resposta inicial satisfatória em sua Teoria da Justiça, no capítulo sobre a “tolerância de seitas intolerantes”. Mas ela é insuficiente. Os casos do “véu islâmico” e do “burkini” levanta questões mais difíceis. Até que ponto uma república deve aceitar a conduta “diferente” de um determinado grupo social? Todos são livres para escolher o próprio comportamento (o vestuário, por exemplo), mas há limites – não necessariamente legais – e estes são postos por meio de um entendimento comum relativo à decência.
Embora se trate apenas de uma questão de como se vestir, sabemos que não estamos preparados para aceitar todo e qualquer vestuário. Se alguém, como se costuma dizer aqui, passa a imitar os “selvagens das Américas” e vai fazer compras ou tomar um café vestindo apenas um tapa sexo, ele será repudiado já que nós – é bem possível – não aceitamos esse tipo de conduta… A fortiori rejeitamos tudo aquilo que claramente faz uma agressão radical à moral de nossa sociedade. É óbvio que tais comportamentos, mesmo sem serem estritamente “perturbações da ordem pública” na visão dos prefeitos, constituem-se como uma perturbação da ordem moral e social por nós reconhecida enquanto tal.
Trato agora, para terminar, da questão da liberdade de consciência. A liberdade de consciência não é apenas liberdade de culto, mas também de não ter religião. A república não precisa se curvar às exigências da religião se estas violam a lei. O que devemos fazer quando uma “testemunha de Jeová” recusa uma transfusão de sangue que poderia salvar a vida de seu próprio filho? Parece-me que essa dúvida não se coloca. O médico deve fazer o que precisa fazer para proteger a vida da criança. Este é um caso claro onde a liberdade como não-dominação restringe a liberdade religiosa com o fim de proteger os mais fracos (a criança) contra as pretensões dos pais.
De modo mais geral, a liberdade religiosa dos pais deve permanecer compatível com a liberdade dos filhos de poderem eventualmente recusar a religião! Que os pais possam transmitir aos seus filhos as suas crenças religiosas, isso é compreensível, mas sob a condição de que admitam que os filhos, chegando à maturidade, possam se emancipar. Se uma menina não pode ser forçada a usar minissaias, em compensação nenhuma menina deveria ser obrigadaa usar roupas islâmicas sob pena de ser chamada de “prostituta” e até mesmo ser espancada pelos fanáticos de um ramo particularmente retrógrado dessa religião.
Estes exemplos não fornecem uma solução “pronta para o uso”, capaz de resolver todos os problemas que aparecem nas sociedades pluralistas, mas indicam um caminho que a reflexão, com base na ideia de liberdade como não-dominação, pode seguir. Há de qualquer modo um fio condutor: a obediência à lei comum é obrigatória e uma certa discrição se impõe como necessária para todos aqueles que desejam manifestar as suas opiniões religiosas. Eis que é preciso ter claro que Jean- Pierre Chevènement, neste ponto, tinha perfeita razão. Decência comum pode ser um outro nome da moderação necessária para proteger a capacidade da existência da comunidade.
Outro socialismo
Em terceiro lugar, podemos reivindicar a grande herança do que às vezes chamamos de “outro socialismo”, em oposição ao socialismo estatista, voluntarista, burocrático e autoritário.
O termo “socialismo” é um termo ambíguo desde a sua origem. Designou uma “ciência da sociedade” antes de vir indicar as correntes de oposição ao liberalismo econômico. Ora, é possível se opor ao liberalismo econômico em nome da igualdade e da liberdade das pessoas, mas também, de outro modo, em nome de uma hierarquia natural que coloca os especialistas no topo. O socialismo que se inspira em Saint-Simon repousa na organização da produção e na “aliança dos produtores”, isto é, na aliança dos trabalhadores com os empregadores contra todos os “parasitas”, formando assim uma “associação capital-trabalho”. Não é por acaso que as ideias de Saint-Simon tenham alimentado a crítica social (inclusive a de Marx), assim como certas formas de Estado autoritário fundadas precisamente na associação entre o capital e o trabalho. As teses de Saint-Simon foram muito influentes na França, durante o Segundo Império.
Há, portanto, dois socialismos: o socialismo dos “engenheiros sociais” que é um socialismo tecnocrático e burocrático e o socialismo antiautoritário que está baseado na ação a partir de baixo, na própria atividade política dos trabalhadores. Constituiu-se uma oposição, especialmente na França, entre Marx – que inspirou a primeira opção – e Proudhon, um dos pais do anarquismo. Mas mesmo se encontramos ambiguamente as fórmulas de Saint-Simon em Marx, a cesura real no movimento operário, na socialdemocracia alemã do século XIX, opôs Ferdinand Lassalle e seus seguidores – amigos “do Estado popular livre” e da educação dos cidadãos por meio do Estado – a Marx. Daí que se possa dizer que este último foi um pouco e até mesmo muito libertário, apesar de uma certa cegueira sua em relação ao Estado e à crença em seu possível desaparecimento.
Se, em oposição à socialdemocracia e ao comunismo histórico do século XX, parte-se das premissas do socialismo antiautoritário, igualitário, pode-se delinear os grandes contornos de uma sociedade diferente, profundamente diferente daquela em que vivemos, mas igualmente distante das utopias funestas daqueles que quiseram criar um “novo homem”, assim como realizar uma sociedade totalmente planejada.
Na verdade, não se poderia definir o socialismo como uma sociedade que faz tabula rasa do passado, mas como aquela que cumpre as promessas do Iluminismo e da democracia liberal – isto é, como um “socialismo liberal”, termo que aqui se emprega na acepção que assumiu sob a caneta do ativista antifascista Carlo Rosselli. Mas, o que é um socialismo liberal? É, primeiro, uma democracia patrocinadora das liberdades individuais e protetora dos cidadãos contra quaisquer formas de dominação – ou seja, é um republicanismo. Pressupõe, ademais, a existência de formas amplas de organização local em que desenvolve o autogoverno – no modelo do que é ou deveria ser comum na França.
É, assim, um socialismo baseado na ação dos trabalhadores por meio de suas organizações, as quais defendem os seus interesses comuns, tais como os sindicatos, as organizações de produção autônomas, tal como as cooperativas. É, finalmente, um sistema extensivo de bens públicos, garantido pelo valor justo, seja na educação, saúde e serviços públicos, e de proteção contra os males públicos – isto é, contra a poluição e a destruição da natureza. Em suma, é tudo o que permite aos indivíduos, sejam quais forem as suas escolhas de vida, decidirem sobre os seus destinos. De modo breve, o socialismo liberal é aquela sociedade que promove a autonomia dos seres humanos em geral. É, por isso mesmo, uma democracia de baixo para cima.
Esse “socialismo” garante a propriedade privada dos bens adquiridos pelo próprio trabalho; ele garante a todos um espaço próprio em que possa viver, ao abrigo da vida ativa na esfera pública. Ele não se propõe a abolir de um só golpe o capitalismo, mas a lhe por freios, os quais serão mais eficazes se estiverem claramente separados do poder político e do poder do dinheiro.
Reabrir o futuro
Estamos já fortemente vacinados contra as utopias. O “comunismo histórico” foi a grande tragédia do século passado – por diversas vezes tivemos oportunidade de refletir sobre ele nos quadros desta Universidade do Povo. É essa tragédia que explica o fato de que as palavras de ordem “punk” e “sem futuro” pareçam agora resumir o nosso tempo como um todo. Mas, se queremos evitar cair na resignação ou na indiferença (pois, tal como observou Hannah Arendt em seu estudo sobre as origens do totalitarismo, são justamente os resignados e os indiferentes aqueles que permitem que o pior aconteça), vem a ser necessário reafirmar que o futuro é nosso.
Mas o futuro pode nos trazer mais felicidade ou pode nos propiciar um mergulho na barbárie. Não há, porém, uma lógica econômica ou uma lógica histórica implacável que esteja a nos levar em uma direção ou em outra. Não nos resta senão empreender uma ação social que suponha fortes convicções morais. Porém, nós não temos de reinventá-las, mas sim lutar para revivê-las, pois elas estão já presentes no vetusto fundo de nossa herança cultural. Honestidade, coragem, senso de justiça, respeito pelos outros… nada de novo! Mas, se esses valores forem firmemente reafirmados em nossos dias, eles se tornarão praticamente subversivos de novo.
Vou insistir particularmente aqui sobre esta virtude grega que é o sentido de proporção. No Templo de Delfos foram registradas duas máximas que resumem todo o pensamento grego: “conheça-se a si mesmo” (o que significa, saiba a sua medida certa) e “não exagere”. O capitalismo, cuja lógica consiste na acumulação ilimitada de riqueza e de poder é frontalmente contrário a este ideal grego. Pois, nós sabemos que o desenvolvimento ilimitado é uma impossibilidade física que nos leva à catástrofe. Cada vez mais, muitos pesquisadores (inclusive nas próprias agências oficiais do governo dos EUA) julgam que o atual modelo de desenvolvimento não pode durar mais três ou quatro décadas.
Vamos, portanto, voluntária ou involuntariamente, em condições humanas ou em condições desumanas, apreender que não podemos consumir indiscriminadamente, que não podemos mais esperar que todos os nossos problemas sociais e existenciais possam ser resolvidos com mais “crescimento”. Eis os hábitos virtuosos que temos de adquirir se quisermos ter um mundo futuro amanhã: substituir o consumo desenfreado pelo uso cuidadoso, economizar ao invés de se submeter as chamadas “leis da economia”, não tentar aliviar freneticamente nossas ansiedades por meio do consumo das coisas, caindo assim na religião universal do capital que é o fetiche das mercadorias. Ora, tem-se ainda aqui uma questão moral.
Então, decência comum? Sim, na medida do possível devemos permitir que os indivíduos possam realizar todo o potencial que neles existe. Contudo, este potencial pode ser expresso sob muitas formas, as quais podem assim gerar tanto o pior quanto o melhor. A aspiração por uma vida confortável e pelo desfrute dos bens que a Terra e o trabalho oferecem é natural. Mas o excesso de riqueza, as extravagâncias capitalistas são propriamente indecentes, tal como é indecente a miséria em que vivem tantas crianças, mulheres e homens atualmente no mundo. O que é indecente e mesmo francamente obsceno – uma palavra que em latim significa sinistro, mau augúrio, repugnante, imundo – é a submissão dos seres humanos ao poder e às “leis do capital”, assim como a sua submissão às ideologias ou religiões assassinas. O que é decente vem a ser a liberdade temperada pela preocupação com os outros e pelo reconhecimento da igualdade de todos.
[1] Conferência proferida em 16 de setembro de 2016 na Universidade do Povo (Tradução de Eleutério Prado)
[2] Veja-se sobre isso Mark Angenot, A utopia coletivista. A grande narrativa socialista na Segunda Internacional, PUF, 1993.
[3] D. Fusaro, Il futuro è nostro, Bompiani, 2014, p. 42.
[4] G. Orwell, Fascisme & Democratie, The Lefts News, fevereiro de 1941, em Écrits Politiques (1928-1949), Agone, 2009, p. 174.
[5] Idem.
[6] Ver o prefácio aos seus Écrits politiques.
[7] Trata-se de uma conhecida atriz francesa, diretora do Teatro Visual Internacional. Nascida em 18 de outubro de 1971, tornou-se uma interprete apesar de ser surda de nascença.
Referência
O texto foi publicado na revista O olho da história. Conferência proferida em 16 de setembro de 2016 na Universidade do Povo (Tradução de Eleutério Prado)

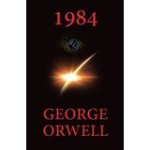
Você precisa fazer login para comentar.